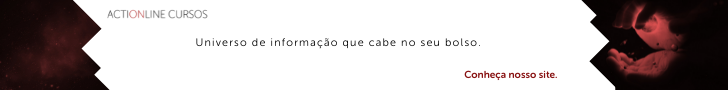- Artigo
O senso de justiça acompanha o ser humano como um instinto moral inato. Todos os povos, independentemente de época ou cultura, desenvolveram algum tipo de estrutura para definir o que é certo e punir o que é errado. Os romanos, em sua sabedoria, formularam uma definição que atravessou séculos: “Justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”, ou seja, justiça é a constante e perpétua vontade de dar a cada um o que é seu.
Antes deles, Platão e Aristóteles já haviam se debruçado sobre o tema. Platão buscava a justiça como harmonia da alma e da pólis; Aristóteles, mais pragmático, falava da justiça distributiva e corretiva, considerando-a virtude fundamental à vida em sociedade.
No plano religioso, o Antigo Testamento da Bíblia apresenta um marco importante: a chamada “Lei de Talião”, com seu conhecido preceito “olho por olho, dente por dente” (Êxodo 21, 23-25). Apesar de hoje soar como punição rígida, à época foi um freio à vingança desmedida, impondo limites racionais à retribuição. Impedia-se, por exemplo, que alguém fosse morto por furtar um pão, em um contexto em que o sangue era facilmente derramado por ofensas mínimas.
Ao longo dos séculos, esse senso natural de justiça foi sendo refinado até chegar aos modelos modernos de justiça pública, impessoal, com garantias processuais e proporcionalidade nas penas. Ainda assim, permanece no povo um instinto claro de distinguir o justo do injusto. Não é necessário ser bacharel em Direito para sentir que há descompassos gritantes entre a conduta praticada e a resposta do Estado.
É nesse ponto que o caso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos causa perplexidade. Sua conduta: escrever com batom a frase “Perdeu, mané” — a mesma proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso em tom jocoso — na estátua da deusa Thêmis, símbolo da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Por esse ato, foi denunciada por crimes como tentativa de golpe de Estado, com penas que se equiparam àquelas de estupradores ou latrocidas.
A imagem é simbólica e perturbadora: o batom como arma de um “golpe de estado”. As prisões em massa após os eventos de 8 de janeiro de 2023 assumem um contorno que já pode ser reconhecido pelo olhar popular: o da desproporcionalidade punitiva, o da injustiça institucionalizada.
Não se está aqui a defender atos de vandalismo ou desrespeito aos símbolos nacionais. Mas é preciso dizer, sem rodeios, que transformar gestos simbólicos — ainda que tolos ou provocativos — em crimes hediondos, subverte a ideia de justiça e fere o próprio estado de direito.
O que se vê hoje, nas prisões de centenas de manifestantes, muitos sem antecedentes, com histórico de vida honesto e humilde, é um descompasso entre conduta e punição. É o colapso da balança de Thêmis, encoberta não por um pano de neutralidade, mas por um véu de censura e desconfiança
A indignação que nasce no seio do povo é legítima. A justiça que pune com fúria simbólica e seletiva apenas reforça a sensação de impotência e alimenta a descrença nas instituições. Por isso, a anistia aos manifestantes do 8 de janeiro surge não como concessão, mas como exigência de coerência jurídica, medida de pacificação e correção histórica de uma desmedida judicial.
Se a lei de Talião representou um avanço sobre a barbárie há milênios, o moderno direito constitucional consolidou grandes avanços em direção à equidade, à razoabilidade e à humanidade da pena. Afinal, punir com o rigor de um déspota quem riscou uma estátua com batom é não apenas desproporcional — é injusto. E justiça, como bem sabiam os romanos, é dar a cada um o que é seu. Nem mais. Nem menos.
Por: Fernando Borges de Moraes, advogado.